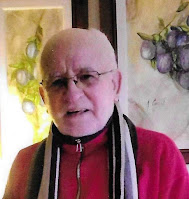Não, essa história
o Manuel Genciano Morais Afonso não a incluiu no livro Australopiteco, datado
de Fevereiro de 2022, de Edições Astrolábio. Contou-ma a mim e deixou para o
livro outras andanças.
Poderá
parecer, à primeira vista, quer pelo título (a recordar um dos hominídeos antes
do Homem), quer pela imagem da capa (o Stonehenge em céu bem carrancudo), que se
ia ter um livro de História ou, até, de Arqueologia.
Nada disso!
Depois de umas páginas, não muitas, em
que dá conta do seu percurso estudantil e onde nos convencemos que vamos ter
livro de memórias, apercebemo-nos que não: é livro de viagens, na medida em que,
na maior parte do volume, Genciano Afonso conta, basto de pormenores, as muitas
e circunstanciadas viagens que fez, sobretudo pela Itália. Claro, também em
Portugal, em Tomar, por exemplo, onde tem a sua casa de férias, e adregou, portanto,
visitar em jeito de extraterrestre, com nave espacial e tudo, o convento, o que
lhe permitiu incursão pela história dos misteriosos Templários, hoje tão de
moda.
Pela
Itália andou de caravana, de carro, de comboio (num daqueles que param em todas
as estações, para poder auscultar melhor o sentir das gentes) e, de vez em quando,
por desfastio, lá pegava num drone e ei-lo com vistas admiráveis para descrever.
Narrativas que vivem do hábito que tomou
não apenas de ler atentamente os guias de viagem, mas de tudo anotar: aqui comi
isto, ali a refeição custou-nos os olhos da cara, acolá havia uma fila que nunca
mais acabava.... E deitou as moedas na Fontana dei Trevi. E penetrou nas catacumbas
de S. Calisto. Só não viu o Papa, mas descreveu a Capela Sistina, deliciou-se com
gelados e bom café…
Enfim,
descrições minuciosas de quem faz questão em tudo partilhar dos muitos apontamentos
minuciosamente tomados. A história da morte é que aí não contou. Contou-ma depois
e aí vai!
«O senhor morreu, vem aqui no jornal!»
Andou
Manuel Genciano no seminário salesiano e também essa passagem pelo colégio de
Mogofores (as refeições, as tarefas, os passeios, o quotidiano, a música…) lhe
merece descrição no
Australopiteco. Não seguiu, porém, aí os seus
estudos e matriculou-se nem História a Faculdade de Letras de Lisboa. Foi
ranger
no Norte de Moçambique e a essa tropa também faz referência.
Dormia a sono solto, na capital, a 28 de
Fevereiro de 1969, num andar da Actor Taborda, quando, às 3 h e 41 m, o País
foi sacudido por um sismo de intensidade 7,9 na escala de Richter.
Saltou para a rua, em pijama, como a
maioria das pessoas e só viria a acordar numa cama de hospital. «Como é que se
chama?», perguntou-lhe o polícia, «dê-me um número de telefone para avisar os
seus familiares». Soube depois que o seu corpo mais ou menos inanimado andara
de Anás para Caifás, porque os feridos eram tantos que não havia camas nem
macas que chegassem. Acabaram por o pôr a um canto, numa enfermaria de grávidas
em eminente risco de parir… No dia seguinte,
– O senhor está morto, diz aqui no
jornal – mostrou-lhe uma enfermeira.
Na verdade, o seu nome constava do rol
daqueles que desta se haviam passado para melhor. Riram-se todos. Apalpou-se
para sentir bem que estava vivo. Estava. Dias depois teve alta, de muletas, porque,
felizmente, fora mais o susto.
E a primeira ideia foi ir às Oficinas
de S. José, dos Salesianos, em acção de graças. Acomodou-se num dos últimos bancos
da capela. Eis senão quando, no início da missa, o padre enuncia as intenções e
termina «Também por alma do nosso querido amigo Genciano, infelizmente falecido
neste cataclismo que nos assolou».
– Se tivesse um buraco, enfiava-me por
ele abaixo – confidenciou-me.
Não se enfiou, ficou muito quietinho
e, no final, saiu sorrateiramente sem dar de vaia a ninguém. No dia seguinte, a
caminho de Vila Praia de Âncora, onde tinha a família, parou numa das casas
salesianas do Porto. Bateu à porta. O padre que veio abrir, deu com ele e…
desmaiou! O Genciano gritou por socorro lá para dentro, acorreu outro sacerdote
que, ao vê-lo, zás, caiu também desamparado!... Era, senhores, uma alma do
outro mundo!
Não consta esta, como disse, nas
muitas histórias que, em jeito dialogante e cheio de apartes, Genciano Moras Afonso
se deliciou a contar das viagens e peripécias, onde a sua formação em História,
como é natural, jamais deixou os créditos por mãos alheias!
José
d’Encarnação
Publicado em Duas Linhas, 9-04-2023